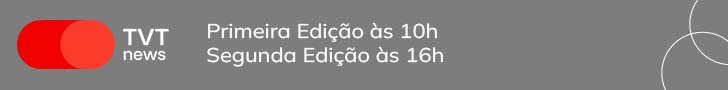Por Demetrius Ricco Ávila*
Na última segunda-feira (11), a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4661/2024, de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). O projeto requeria a inclusão do nome de Alberto Pasqualini – nascido em Ivorá (RS), a 23 de setembro de 1901, e morto no Rio de Janeiro (RJ), a 03 de julho de 1960 – no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria.
Na fundamentação de seu voto, favorável à inclusão, a Presidenta da Comissão, deputada Denise Pessoa (PT/RS), destacou o papel de Pasqualini como ideólogo maior do trabalhismo brasileiro. Em vista desse destaque, bem como do próprio Projeto de Lei, têm lugar, nas linhas que seguem, algumas considerações sobre Pasqualini e sua atuação intelectual e política.
Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, o substantivo “ideólogo” refere-se a pessoa criadora de uma ideologia, podendo significar, também, “persona entregada a una ideología”. Este segundo significado, citado aqui em espanhol em virtude da potência semântica do adjetivo “entregada”, bem explica e melhor define a trajetória de Alberto Pasqualini.
Se Pasqualini não foi por exato o criador do trabalhismo brasileiro – tradição política emergida das convulsões e transformações em curso no corpo da sociedade brasileira do primeiro quartel do século XX -, foi seu maior provedor em termos de elaborações intelectuais para fixá-la, no imaginário popular e no dos setores médios progressistas, como bandeira de lutas sociais, à medida que dotou o discurso trabalhista de um ideário definido e o afinou, com vistas a capacitá-lo para o estreitamento de laços com a história nacional; não raro, buscando explicitar a destinação que esta proporia ao povo brasileiro: destinação apenas cumprível mediante o estabelecimento da justiça social.
A “atualidade de Alberto Pasqualini” (parafraseando o título de um livro organizado por iniciativa do ex-senador Pedro Simon e editado pela Livraria do Senado) mantém-se em nome da inevitável e triste constatação de que, decorridas seis décadas e meia desde o seu desaparecimento físico, a justiça social não se estabeleceu a pleno no Brasil. Na contramão do estabelecimento dessa forma suprema de justiça, vivemos tempos de concentração grotesca de renda, ainda maior do que a percebida por Pasqualini nas décadas de 1930 a 1950.
Essa concentração foi agravada pela violência do golpe de 1964 – consumado contra os trabalhadores e como freio para as aspirações de cidadania dos grupos marginalizados – e pelos dois decênios de ditadura que se seguiram, sem solução de continuidade, e tendo sido mesmo aprofundada nesses últimos quarenta anos de estabelecimento de um ordenamento democrático. Desta feita, o trabalhismo propugnado por Alberto Pasqualini permanece instrumentalizável e com aptidão para infundir temores nos setores parasitários da sociedade brasileira, conquanto seja resgatado e mobilizado o fervor do grande ideólogo por extirpar as iniquidades históricas do país, no âmbito dos embates presentes – no que toca, por exemplo, às iniciativas de modificação da nossa pouco equânime estrutura tributária.
Ademais, com relação aos espúrios interesses forâneos – vampirizadores da natureza e do trabalho da gente brasileira -, sustentados por enunciações enganosas de um neoliberalismo devastador, mal disfarçado de modernidade econômica ou mesmo de louvação a uma tão inexorável quanto “sadia” globalização, Pasqualini legou-nos um repertório e uma retórica utilíssimos para o seu necessário combate, consubstanciados, de forma magistral, nos seus discursos em defesa do monopólio estatal do petróleo.
Por ocasião de dúvidas quanto à pertinência hodierna de inspiração nesse tipo de discurso, deve-se evocar a desestabilização operada sobre o Brasil, política, social, econômica e até culturalmente, a partir da publicização da descoberta de imensas reservas de petróleo e gás em nossas águas profundas, o vulgarmente chamado pré-sal.
Antes da conclusão destas linhas, cabem algumas palavras mais. A despeito da remarcada influência de encíclicas papais sobre seu pensamento – tais como a Rerum Novarum, de Leão XIII e a Quadragésimo Anno, de Pio XI (1931) -, e dos influxos do trabalhismo inglês de seu contemporâneo Clement Attlee, Alberto Pasqualini não se limitou a mimetizar ideias engendradas fora do Brasil, nem tampouco a um esforço adaptativo destas à realidade do país.
Em verdade, Pasqualini bem conhecia as particularidades e as encruzilhadas da história nacional. Por isso, escapou às armadilhas da mera transposição ideológica que desde há muito vinha ocasionando incongruências assinaláveis em nossa vida intelectual e política, chegando por vezes às raias do absurdo ou do ridículo, feito a adoção e adoração do liberalismo por uma parte significativa das elites escravagistas brasileiras no século XIX.
Diversamente, empenhou-se Pasqualini na concepção de um trabalhismo brasileiro para o Brasil, e esta identificação não é banal. Entre as nossas fronteiras, perdem valor explicativo ou com frequência tornam-se inaplicáveis formulações genéricas, a exemplo das “gerações” de direitos elencadas pelo sociólogo britânico Thomas Marshall (civis, políticos, sociais), gerações estas surgidas além-mar em certa ordem lógica e cronológica aqui não observada, porquanto a história do Brasil não se confunda com a da Europa industrializada no alvorecer da Idade Contemporânea, nem com a dos Estados Unidos da América no seu processo de independência e de construção das suas instituições de Estado.
A vida de Pasqualini corre em paralelo com o despontar do modernismo brasileiro, nas primeiras décadas do século XX, e seus desdobramentos políticos, para além da estética, dos quais se deve ressaltar a busca, obcecada em alguns casos, por decifrar quem somos nós, brasileiros, em meio às outras nacionalidades existentes no planeta. Daí não constituir equívoco supor que o ideólogo em questão tenha-se apropriado do espírito de seu tempo, lançando novas luzes sobre essa busca identitária.
Enfim, a trajetória de Alberto Pasqualini ilustra e amplia a definição de “ideólogo” que encabeça esta escrita, como pessoa “entregada” a uma ideologia. Em Pasqualini, não tem lugar o sentido pejorativo de “ideólogo” tal como empregado por Napoleão Bonaparte para referir-se aos intelectuais do Instituto de França, a seu ver, demasiadamente abstracionistas no que tange ao pensamento político e social e, portanto, ignorantes da sociedade e da política enquanto fenômenos no e do mundo real.
Passando-se os olhos por sobre a biografia do ideólogo brasileiro, vê-se logo um intelectual de partido e em constante movimentação – Alberto Pasqualini não foi homem do confinamento aos intramuros acadêmicos. Foi, com efeito, ao encontro do povo de cidade a cidade e de Estado a Estado do Brasil, numa infatigável pregação que o país ainda não conhece na sua justa medida.
*Demetrius Ricco Ávila é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutorando em História e professor do Instituto Federal Sul-rio-grandense